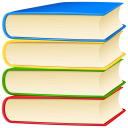Crítica de Elvis: a cinebiografia ridícula e sublime de Baz Luhrmann
A primeira vez que demos uma boa olhada no personagem-título do espetacular livro cafeinado de Baz Luhrmann, Elvis , ele está saindo das sombras e em um palco na Louisiana, pronto para se apresentar para uma multidão totalmente inconsciente de que está prestes a testemunhar o coroação do futuro rei do rock 'n' roll. Vestido de rosa dos ombros aos tornozelos, o galã de 19 anos hesita, e o público, cheirando a sangue, o xinga. Mas então Elvis Presley (Austin Butler) lança as notas de abertura do que se tornará seu primeiro sucesso nacional, Baby, Let's Play House , e enquanto ele dedilha, seu corpo balança e empurra. Ele se move como se fosse atingido por um raio, e a corrente elétrica passa por todo o local, despertando as jovens presentes, suas libidos instantaneamente despertadas por seus sugestivos giros de pregador rural.
Muitas cinebiografias para contar incluem um momento de nascimento de uma estrela como este. Mas Luhrmann, o irreprimível glutão de carnaval por trás de Moulin Rouge e O Grande Gatsby , encena a sequência com um talento infernal que a empurra para além do clichê, para a paródia, e depois para além disso, para um tom febril de histeria de desenho animado. Um raio de guitarra elétrica embeleza a música, sacrificando o realismo histórico no altar da glória do rock de arena da era cruzada. E as meninas não apenas gritam. Eles explodem em uma espécie de êxtase involuntário, como se possuídos pelo espírito do magnetismo animal bruto de Presley. Impulsionando uma convenção de drama musical, Luhrmann alcança as alturas do mito: a ascensão de um deus do rádio como uma revolução sexual de um homem só, liberando toda a frustração reprimida da juventude americana e reduzindo pela metade a história no processo.
Esse tipo de energia domina Elvis . No papel, o filme é puro clichê biográfico, conectando 25 anos de pontos de bala na vida e carreira do artista solo mais vendido de todos os tempos. No entanto, Luhrmann não é um contador ou um historiador famoso. Desde o início, ele corta a cinebiografia musical em uma enxurrada louca, caricaturando suas batidas familiares, abordando suas obrigações por meio de uma colagem de manchetes e fotos da multidão e ação em tela dividida. Elvis é estruturado como um carretel de quase três horas. Não tem tanto cenas como suítes. Ele se move .

A abordagem de overdrive da MTV de Luhrmann pode ser tão estratégica quanto patológica. Elvis só pode cobrir todo o terreno que precisa cobrir em alta velocidade, contando elementos de sua história verdadeira de décadas por meio de implicação e taquigrafia. A ascensão à fama. A batalha contra as repreensões morais escandalizadas. A reação subsequente ao comprometido e amigo do pastor Elvis, que é basicamente o momento Dylan-fica-elétrico do cantor ao contrário. Elvis corre por tudo isso. Enquanto isso, a carreira do rei em Hollywood é relegada a uma única e elegante montagem Technicolor. Seu serviço no exterior é totalmente omitido.
Na medida em que esta revista maximalista de Graceland tem um centro dramático, é a relação inicialmente simbiótica e cada vez mais parasitária entre Elvis e seu infame empresário explorador, o coronel Tom Parker (Tom Hanks). O roteiro, uma óbvia colcha de retalhos de rascunhos de Luhrmann e outros, começa a história com Parker pegando o cheiro do superstar em um estágio embrionário. (Sua descoberta de que a voz de um milhão de dólares no rádio pertence a um homem branco é acompanhada por um hilário zoom no rosto de Hanks, disfarçado por um nariz falso e animado com choque e desejo de oportunidade). Parker acaba seduzindo Elvis em um contrato no recinto de feiras, emitindo seu discurso faustiano no topo de uma roda gigante. Entre outras coisas, esta é uma história de inocência perdida: uma montagem de muitos crosscuts Elvis perdendo a virgindade com fotos de sua mãe se preocupando.
O que Parker calculou foi o imenso potencial comercial da cultura de Presley, a maneira como ele reembalou para um público branco o som e os movimentos dos artistas negros que ele ouvia em sua juventude. Elvis naturalmente coloca em primeiro plano esse aspecto da história do músico da pobreza à riqueza, até mesmo dobrando-o nos tropos Walk Hard que ele energiza: Enquanto o rei se pavoneia no palco, Luhrmann corta para filmagens de um Presley pré-adolescente espionando uma performance de Arthur “ Big Boy” Crudup , um verdadeiro candidato ao título de pai do rock 'n' roll. Mais tarde, uma sequência emocionantemente montada mostra Elvis literalmente andando entre a América branca e a América negra, em casa no gramado de uma plantação e na Beale Street. O filme capta a verdadeira ameaça que os conservadores viam em Elvis – o medo não apenas de sua sexualidade exagerada, mas também da cultura negra na qual ele lucrativamente capitalizava.

Parker narra o filme, insistindo repetidamente que o eventual declínio e morte de Elvis foram um produto de sua incansável devoção em fazer um show, mesmo quando o que vemos coloca a culpa mais diretamente na orientação conivente e controladora de seu empresário. Esse é um ângulo potencialmente engenhoso, para enquadrar a história em torno dos desvios não confiáveis de seu vilão. Hanks, no entanto, é incomum, quase impressionantemente atroz no papel. O elenco faz sentido em teoria, armando a decência paterna essencial de nossa estrela de Hollywood mais confiável em uma tática de manipulação. Mas mesmo um filme tão escandalosamente elevado não pode suportar o absurdo da atuação de Hanks, que combina a maquiagem macabra de Austin Powers com um sotaque nórdico verdadeiramente bizarro e de vaudeville que não soa quase nada como o homem real realmente falou. Hanks é simplesmente ridículo demais para ser levado a sério aqui, e suas cenas aproximam o filme precariamente da comédia.
Butler, suando profusamente em um guarda-roupa giratório de roupas famosas da moda, se sai melhor como O Rei. É uma performance de print-the-lend, toda arrogante e com postura de pinup-boy, com muito mais atitude – e sex appeal – do que psicologia. Mas isso combina com um filme biográfico com maior interesse na lenda sísmica de Elvis do que quem ele realmente era sob todo o carisma de supernova e macacões brancos de lantejoulas. O fato de Butler às vezes não se assemelhar tanto a Elvis quanto a qualquer número de atos de flash-in-the-pan devido ao estilo do artista apenas reforça a concepção implícita de Luhrmann da história do rock como um jogo de telefone, distorcendo a voz original a cada nova entrega ou geração.
Elvis está em toda parte, afirma o filme – uma ideia que ele comunica através de uma trilha sonora que desacelera e exibe grandes sucessos como “Fools Rush In”, remixando-os em uma série de hinos fantasmagóricos ecoando na consciência da cultura pop. O diretor do Moulin Rouge também, é claro, abasteceu sua jukebox com lançamentos de agulhas anacrônicos, alternando hip-hop com covers modernos de The King para destacar como o ato original de apropriação de Elvis é apenas um capítulo no caminho tortuoso da música popular americana. É uma conexão mais bem-sucedida do que as inúmeras tentativas do filme de colocar Elvis no contexto tumultuado das notícias de última hora de meados do século. Talvez Hanks esteja realmente por perto para fortalecer as associações de Forrest Gump de um roteiro que periodicamente deriva para um aparelho de televisão e os assassinatos relatados nele.
Depois de mais de duas horas de resumo implacável de supercortes, o filme fica mais lento e perde o fôlego. Um componente essencial da história de Elvis é a parte da queda dela – aqueles últimos anos ignóbeis em Las Vegas, quando o homem ficou sem retornos, ficou viciado em pílulas e se tornou um prisioneiro de sua residência no cassino e do controle que Parker tinha em sua vida. carteira. É para onde o enredo tem que ir, mas ao dramatizar obedientemente o último ato desta vida, Luhrmann suga todo o entusiasmo selvagem de seu material. O ato final é uma queda laboriosa em uma conclusão tragicamente precipitada, coroada por imagens de arquivo obrigatórias.
Onde ganha vida, antes disso, é no palco. Aqui, a aproximação sensual da festa à fantasia de Butler de um gel luminar com a inquietação de Luhrmann de um segundo para produzir algo como um monumento à mitologia de Elvis. O filme sobrevive, durante grande parte de seu tempo de execução inchado, no devaneio extático e imprudente de sua carisma – a maneira como ele canaliza a presença de palco do Rei através de uma corrida de imagem e som sem fôlego, tentando atrair o público para o mesmo frenesi que Elvis inspirou em sua própria vida. Como, aposta Luhrmann, podemos medir a vida dessa figura monumental e desestabilizadora por meio de algo menos do que uma extravagância alucinante? Aqui e ali, o excesso de sua visão compensa, passando de exaustivo para emocionante.
Elvis estreia nos cinemas em todos os lugares sexta-feira, 24 de junho . Para mais resenhas e textos de AA Dowd, visite sua página Authory .